Quarta-feira,
26/1/2011
Digestivo nº 475
Julio
Daio Borges
| >>>
JULIAN ASSANGE, O HOMEM POR TRÁS DO WIKILEAKS
Desde o 11 de Setembro que alguém não abalava tanto os Estados Unidos da América. Obama não vale, pois o medo venceu a esperança. (Ou o belo discurso não se concretizou.) Basta lembrar que nos Estados Unidos do mesmo Obama estão restringindo o acesso ao WikiLeaks em locais públicos como a Biblioteca do Congresso. E que, nesses mesmos Estados Unidos, um editorial do Washington Times sugeriu que Assange fosse tratado como "terrorista de alta periculosidade". Ato contínuo, a Interpol colocou o responsável pelo WikiLeaks na lista de "pessoas procuradas". E a própria Austrália — sua terra natal — está à sua caça; algo que — no chat do Guardian — levou-o a comentar: se o país obedece cegamente aos Estados Unidos, então "nada mais significa ser cidadão australiano"... Assange é descrito, na Wikipedia, como "internet activist". "Whistleblower" — denunciante, informante ou delator — é a palavra da moda. Nasceu na Austrália, em 1971. Seus pais foram praticamente saltimbancos. Até que se separaram e sua mãe se juntou a um músico. Dessa união, nasceu uma criança, pela qual ambos disputaram, e Assange se viu foragido pela primeira vez, por iniciativa da própria mãe. Tornou-se um hacker aos 16, assinava "Mendax" e se dizia parte de um grupo intitulado "International Subversives". Num dos manifestos da época, Assange concluía que o importante era "compartilhar informação". Era 1987 (antes da Web). Em 1992, Assange foi preso, acusado de 24 crimes de "hackerismo". Nessa altura, já vivia com sua namorada, já tivera um filho com ela, mas, no processo, se separara e perdera a guarda da criança. Com sua mãe, Assange fundou a Suburbia Public Access Network (depois do desgaste de tentar recuperar seu filho, em vão). A mãe de Assange diz que ele nunca se recuperou de uma crise de stress pós-traumático e todas fontes afirmam que, ao perder a guarda de seu filho, seus cabelos ficaram irreversivelmente brancos. Assange tentou estudar Física, em Melborne, justificando que apenas as abstrações dessa ciência poderiam aplacar sua fome intelectual de hacker. Não adiantou: em 2006, Assange lançou a iniciativa do WikiLeaks. E, quando não está no famoso bunker, sua vida tem sido "entre aeroportos". O WikiLeaks não tem empregados, não tem mesas, nem cadeiras, nem escritório. Quando embarcam num projeto — como o vídeo Collateral Muder —, o pequeno staff de voluntários do site trabalha sem parar. Assange sobrevive com poucas horas de sono e aguenta "uma boa dose de caos ao seu redor". Num perfil da New Yorker, conta que já ficou dois meses em Paris sem sair de casa (outras pessoas saíam para trazer-lhe comida). O WikiLeaks está distribuído em mais de 20 servidores e em mais de 100 domínios ao redor do globo. Assange garante que, para tirar o site do ar, seria preciso tirar a internet inteira do ar. Aparentemente inspirado em Kafka, Koestler e Solzhenitsyn, Assange se assumiu como um outsider. Seu orgulho maior é proclamar — até numa aparição surpresa no TED — que um time de 5 pessoas conseguiu levantar mais informações confidenciais do que toda a mídia mainstream. "Não é preciso mais procurar um jornalista para fazer uma denúncia", concluiu. O WikiLeaks já recebeu algumas centenas de milhares de dólares em doações. E o sonho de Assange é se estabelecer na Suíça, onde encontraria asilo político, criando, lá também, uma fundação WikiLeaks. Por enquanto, tem de responder por uma acusação de estupro (ainda que nada tenha sido provado). E acaba de ser liberado em Londres... A internet vai ter de esperar até que derrube outros governos, e humilhe novamente os jornalistas do mundo todo, com uma equipe de 5 pessoas ;-)
|
 |
| >>>
WikiLeaks and Julian Paul Assange |
| |
| >>>
A DESMORALIZAÇÃO DOS PRÊMIOS LITERÁRIOS NO BRASIL
Foi o Piauí Herald quem prometeu instituir um prêmio para todos os não-premiados do nosso cinema. Apesar dos "festivais" de cinema pululando a cada cidadezinha, a Piauí brincava com o fato de ser quase impossível encontrar um filme brasileiro não-premiado. Ainda que não haja tantas "festas" literárias quanto festivais de cinema, a premiação excessiva da literatura contemporânea nos conduz a uma conclusão parecida... A estranheza começou com a vitória esmagadora de O Filho Eterno (2007), de Cristovão Tezza — que, apesar de ser um genuíno best-seller, estranhava que fosse tão absolutamente unânime. Em três anos, abocanhou o Jabuti, o APCA, o Prêmio Bravo!, o Portugal Telecom, o São Paulo de Literatura e o Passo Fundo. E a polêmica terminou agora, no Jabuti de 2010, com Chico Buarque perdendo para Edney Silvestre, na categoria romance, mas vencendo no resultado geral da premiação. No caso específico de Chico Buarque, o prêmio é sempre pelo "conjunto da obra", pois seus "romances" são, no máximo, razoáveis (não chegando a ser nem bons, nem ótimos). Fora que paira a suspeita, desde a década de 90, de que Chico Buarque não escreve, assim como Jô Soares não escreve, assim como Caetano Veloso teve uma boa ajuda de Rubem Fonseca etc. Lançar livros de celebridades é um bom negócio, porque quem compra, geralmente, não lê. Agora, lançar livros de unanimidades é um excelente negócio, pois quem compra, mesmo que leia, nunca se atreve a discordar. O fato é que não temos, atualmente, uma cena literária tão pujante, que justifique essa lista de prêmios literários, que acabam recaindo nos mesmos nomes. Para piorar, quem escreve, no Brasil, muito comumente, faz "crítica", às vezes edita, quase sempre divulga e, fatalmente, "julga" livros em premiações. E como faltam jurados — assim como faltam bons escritores, bons livros e bons críticos —, a cena literária, se é que ela merece essa denominação, vai ficando viciada. Não existe rigor, porque o defenestrado de hoje pode ser o editor de amanhã; o preterido na votação hoje pode ser o divulgador televisivo de amanhã; o criticado de agora pode ser o jurado do prêmio de amanhã. E assim por diante... Para usar uma metáfora futebolística — tão cara ao nosso loquaz ex-Presidente —, é como se um mesmo jogador pudesse, alternadamente, entrar em campo, apitar o jogo, treinar o time, comentar as partidas e, no limite, até fazer cartolagem. Não que o nosso futebol seja um exemplo de probidade. Mas a nossa "literatura", ou o que sobrou dela, tem passado por algo de nível igualmente baixo. E as pessoas ainda conseguem acreditar...
|
 |
| >>>
A política dos prêmios literários |
| |
| >>>
CONVERSAS COM PAUL RAND, POR MICHAEL KROEGER
Paul Rand foi um revolucionário do design. A cada década, como Miles Davis no jazz, revolucionava sua atividade. Nos anos 30, levou o que Steven Heller chama de "arte comercial" da prática artesanal à profissionalização. Nos anos 40, consolidou o papel do design na propaganda e nas capas de revistas e de livros. Nos 50, introduziu o conceito de "identidade visual" nas grandes corporações. E, nos 60, criou marcas eternas como IBM, ABC e Westinghouse (entre outras). Na visão do mesmo Heller, que prefacia Conversas com Paul Rand (Cosac Naify, 2010), combinou ideias do construtivismo russo, do De Stijl holandês e da Bauhaus alemã, desaguando tudo na pujante arte comercial norte-americana. E Rand foi longevo. Ainda dava seus pitacos em meados da década de 90, quando já passara dos 80 anos. Acumulou seis décadas de carreira e quarenta anos como professor, entre Yale e Brissago, na Suíça. Concebeu, por exemplo, a imagem da Big Blue, que a Apple combatia nos seus primórdios (com o computador pessoal), até receber um abraço de Steve Jobs — "um cliente durão" —, quando criava a marca da Next. Mas Rand não era, apenas, um artista brilhante. Era um pensador da atividade, tendo seu Thoughts on Design (de 1947, quando ele tinha apenas 32 anos) se tornado "a bíblia do design gráfico moderno", ainda segundo Heller. (Agora, pensando bem, talvez seja daí que Jobs tenha tirado inspiração para seu Thoughts on Music [2007] e até para seu mais prosaico Thoughts on Flash.) Rand, contudo, não considerava o design "um fim em si mesmo" (Heller), uma "arte", mas, modestamente, "um serviço". Ainda que buscasse inspiração na grande arte e nunca engolisse a chamada arte pop. Apontava a origem do design, como conceito, no biógrafo renascentista Giorgio Vasari, que já havia escrito que o design — ou, simplesmente, o "desenho" — era fundamental, servia de base para outras artes, como pintura, escultura, arquitetura e até escrita. Rand, aliás, criticava a proliferação das "fontes" na contemporaneidade. E olhava para o computador com bastante desconfiança. Achava que a poderosa máquina não deixava mais tempo "para se ser contemplativo". E que — em linguagem bem direta — o computador ficava dando sucessivos "chutes" no "traseiro" do usuário, impedindo que seu pensamento fluísse (na obrigatoriedade de transformar tudo em ação, em cliques de mouse). Rand, irascível, definia o design como conflito, "um conflito entre a forma e o conteúdo". Avisando aos navegantes: "Nunca discuta estética com seu cliente". Fechando ainda, com uma sabedoria que pode ser aplicada, novamente, às demais artes: "O processo vai da complexidade à simplicidade". O livro Conversas com Paul Rand reúne transcrições de duas aulas de Rand, em que, como um Sócrates do design, persegue as raízes dos problemas levantados. (Sem poupar os alunos ou interlocutores.) E termina com depoimentos de discípulos ou amigos seus, que contam um pouco sobre Paul Rand na intimidade. Numa época de correção política, faltam homens como Rand, que viviam e agiam conforme suas verdades.
|
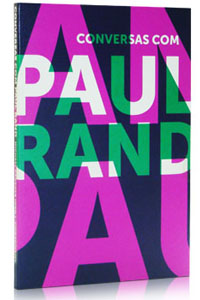 |
| >>>
Conversas com Paul Rand |
| |
| >>>
THE DAILY, DE RUPERT MURDOCH, NO IPAD
Com o advento da internet, a imprensa mundial passou de crítica de Rupert Murdoch a entusiasta do bilionário da Austrália. Se antes da Web, ele era pior que Kane, depois dela, ele passou a ser elogiado por (ainda) comprar jornais impressos e, ao enfrentar o Google, terminou apontado como redentor da velha mídia. A jornalistas de papel, desesperados por um salvador, simplesmente não ocorre que Murdoch tem duração finita, seu império não tem sucessor claro e, nas suas atitudes contra a nova mídia, ele pode estar sendo apenas senil. É verdade, Murdoch comprou o MySpace, numa tentativa de se estabelecer na internet, mas, desde então, a empresa perdeu sua liderança para o Facebook, afastou seus fundadores e deixou de ter interesse (até para o próprio Rupert). Como todo bom jornalista de papel, cego para as inovações e arraigado em seus velhos princípios, Murdoch não é capaz de conceber um mundo sem jornais e, aproveitando o modismo do iPad, quer fazer mais uma tentativa. Seu "jornal", se é que podemos intitulá-lo assim, já tem nome: The Daily, ou "O Diário" (merecendo, no nascedouro, um prêmio de originalidade). A ideia de Murdoch é "fechar" The Daily toda a noite e dispará-lo, na madrugada, para seus assinantes via iPad. O leitor amanheceria e, em vez de pegar o impresso (se é que ainda tem esse hábito), devoraria The Daily, no iPad, durante o café da manhã. Mudorch, como tantos outros jornalistas, ainda não percebeu que, no mundo digital, "fechar uma edição" não faz mais sentido. O mundo continua girando, o Twitter continua sendo atualizado (e até as homepages do portais), só The Daily chegaria com notícias envelhecidas. Outra coisa: como uma app (aplicação) fechada dentro do iPad, The Daily poderia talvez "lincar" para fora, mas nunca seria "lincado" na Web, pois não teria URLs, perdendo um dos maiores canais de divulgação agora, o boca a boca on-line. Para completar, alguém precisaria avisar a Murdoch, e aos jornalistas de papel, que o modelo, generalizante, de trabalhar com muitos "cadernos", perdeu seu apelo. Como tem de ser genérico, o jornal não se aprofunda em nada; mas a internet, como trabalha com nichos hiperespecializados, dá um banho na cobertura impressa, em várias "editorias", todos os dias. Ryan Tate, no Valleywag, enumerou essas e outras questões, que apontam para o fracasso de The Daily, desde novembro. Tate acrescenta que esse sonho de ser resgatado pelo iPad — como uma aplicação paga —, que todos os veículos impressos nutriram, nos EUA não se concretizou. A Wired, uma publicação supostamente antenada, partiu de 100 mil aplicações vendidas, na primeira semana, para menos de 30 mil, na última contagem (estamos falando de uma revista que costumava vender, impressa, 750 mil exemplares). Como se não bastasse, a conta não fecha: Murdoch quer, com sua antiga cabeça de "redação", contratar 100 jornalistas; mesmo que venda quase 20 vezes mais que a Wired no iPad, alcançaria pouco mais da metade dos milhões que sua redação consumiria (pelas contas de Ryan Tate). Para terminar, mesmo com o apoio de Steve Jobs (ele apoia qualquer coisa que venda mais iPads), a News Corp, como tantas empresas jornalísticas, não tem nenhum cérebro especializado em tecnologia. Talvez porque — como observaram Jay Rosen e Dave Winer, no melhor podcast sobre mídia atualmente — nenhum programador vai trocar ações do Google ou do Facebook por participações em mortos vivos como a Newsweek e o The Independent. Mas os jornalistas de papel, naturalmente, preferem morrer abraçados a Murdoch e a seu Titanic do que reconhecer a hegemonia da Web.
|
 |
| >>>
Why the iPad Newspaper is Doomed |
| |
|
|
| |
>>>
Julio Daio Borges
Editor |
| |
|