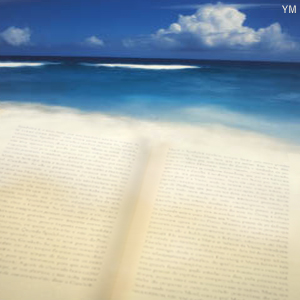|
|
Sexta-feira, 21/1/2005 As férias, os clássicos e os dias fora do tempo Julio Daio Borges
Naquelas viagens, e nas outras posteriores, tirei da estante um volume daqueles para os quais a gente reserva uma época de tranqüilidade e de calmaria que - se se for pensar - nunca chegará. Fora que alguns autores, de tão grandes, nos parecem assustadores à primeira vista e a tendência, quase sempre, é imediatamente pensar: "Não estou preparado pra esse cara". Ou então se perguntar: "Será que estou preparado pra esse sujeito?" Mais ou menos na linha: "Será que eu vou entender? Será que eu vou conseguir aproveitar?" Assim, não me soou estranho quando, nestas "férias" de fim de ano, depois de anunciar que eu havia trazido Proust, um amigo logo emendou: "Nossa, eu nunca peguei nada nesse nível...". Quando eu tinha 15 anos e me meti a escutar um tipo de música com a qual não tinha a menor familiaridade, intimamente antes de cada audição, costumava rezar: "Que eu consiga escutar!"; "Que eu esteja pronto pra entender!"; "Que eu possa aproveitar!". Com os clássicos, é igual. Todo mundo imagina, a priori, não estar à altura de determinada obra. E, às vezes, as traduções são tão ruins que a pessoa desiste logo nas primeiras páginas, sem saber que a culpa não é da sua falta de capacidade mas, sim, dessas edições apressadas que - como muitos autores estão mortos - ninguém costuma fiscalizar. Já citei, em outra oportunidade, o Modesto Carone, exímio tradutor de Kafka. Sendo as edições de O Processo tão abundantes (de acordo com a fama da obra), a chance de você pegar a tradução mais adequada (se não for a única boa), a do Carone, é baixa ou alta, ou aleatória, dependendo do suprimento que a livraria onde você calhou de estar recebe da editora Companhia das Letras (detentora hoje deste Kafka recomendável). Ou seja: como um colega meu da faculdade que lia O Processo durante o curso, porque considerava importante, mas não gostava, você corre o risco de se desapontar com um clássico e concluir, como meu amigo das férias de agora, não ter embocadura para o negócio. Eu já li alguns clássicos. Até porque é minha obrigação ter lido alguns clássicos. Mas, como disse o Daniel Piza há muitos anos, vai sempre aparecer alguém te cobrando a leitura de um determinado clássico que você deixou para trás. Um livro considerado fundamental mas que você não leu - e, por causa disso, deveria se envergonhar. Entre intelectuais (e aspirantes a), a resposta para essa questão é quase sempre "claro, claro". Mesmo que não tenha lido (e eu acredito mais nessa hipótese), o sujeito finge uma certa naturalidade como se convivesse com a obra desde tempos imemoriais. O medo é dos seguintes comentários: "Mas como? Como é que Fulano - ocupante de tal posição ou cargo - ainda não leu o referido clássico?". Pois é, ele é humano - e não leu toda a biblioteca de babel de Borges. Ao mesmo tempo em que me ocorreu a Carol, anos atrás, me aconselhando indiretamente a leitura dos clássicos nas nossas viagens, quando fui elaborar este texto, lembrei de outras épocas também, em que involuntariamente lia clássicos nos mais variados lugares. E até não-clássicos. E até subliteratura ou "literatura" que hoje, se caísse nas minhas mãos (para criticar), eu desancaria na hora. Tipo Harry Potter. Existe, inclusive, uma teoria, defendida por muita gente séria (por exemplo, o Sérgio Augusto), que afirma o seguinte: quem lê best-sellers nunca vai chegar a ler nada de aproveitável. Logo, segundo o meu amigo S.A. (e também segundo o Harold Bloom), os leitores não "evoluem", porque as leituras não evoluem. Eu tendo a discordar dessa colocação, porque eu mesmo já fui leitor de bobagens como, sei lá... Stephen King? E Marion Zimmer Bradley. Confesso: foi na adolescência e na minha primeira juventude (essa expressão existe ou acabei de inventar?). Como eu disse, ninguém é perfeito - todos somos humanos. O que eu queria dizer é que a sensação inebriante, de ter lido um clássico nas férias, já me ocorria antes (antes da tal dica da Carol) - mesmo quando eu me enfronhava com não-clássicos, e até com anticlássicos. No caso específico do Stephen King, eu me lembro de ter pegado o Trocas Macabras (que nome...) na Siciliano, na mão, e de ter passado um bom tempo mergulhado naquele volume - e de ter entrado na "vida" daquela cidade (da história). Também lembro de longas tardes no Guarujá e depois de passeios pela praia em que, no caso específico da Bradley, eu ficava pensando nas "falas" da Morgana e na existência dela em Avalon, e nas brumas, e na Deusa e em uma porção de outras coisas... E evocando uma leitura atual: se eu soubesse escrever como Proust, poderia transmitir exatamente essa sensação. Um clássico (não sei se é porque é clássico) tira você fora do tempo - e eu tendo a acreditar que isso acontece mais facilmente nas férias. São os "dias fora do tempo" do título, que você tende a recordar como uma "massa contígua" toda vez em que, futuramente, for repassar mentalmente as vivências que aquele livro te deixou. Mas, falando em clássicos de verdade, eu lembro de tardes no sofá da Fazenda devorando o 1984 do George Orwell. Lembro do bilhete de amor que o protagonista guardou como único traço de humanidade daquele mundo horroroso. Lembro, depois, de longas manhãs enfrentando os Cem anos de solidão no original - mais de 100 páginas por dia, o livro todo em uma semana. E Amaranta, tía Amaranta... e a mania de comer pedaços de parede, para ver se o fígado reaccionaba. Lembro do Óbvio Ululante numa praia em Bertioga. E de um amigo rindo quando Nélson Rodrigues reproduzia uma declaração sobre Guimarães Rosa: "Um bolha!". E lembro, claro, de O Processo na praia da Conceição, em Fernando de Noronha. E o advogado acamado, prolixo e enrolado, enquanto Josef K. se envolvia com sua criada. E lembro de terminar o Elogio da Loucura, de Erasmo, num avião pousando em São Paulo, no mesmo momento em que terminava um desses filmes de aventura, naquela telinha minúscula do assento do avião, com os passageiros torcendo em coro pelo mocinho e contra o vilão. E lembro de, também no avião, virar a última página da biografia de Wittgenstein; no meio da madrugada, vindo de Nova York, e - numa tentativa desesperada - tentar resumir em mais de 13 páginas (e, nos dias posteriores, condensar). E dos Irmãos Karamazov em Trancoso. No meio do vento, numa praia do Club Med, ter a visão daquele capítulo sobre o Grande Inquisidor, como se ele estivesse ocorrendo em plenas ruas da cidade, na entrada, antes do Quadrado... Mais recentemente, da Montanha Mágica: de Madame Chauchat, também na Fazenda, se desdobrando num francês maravilhoso que - se eu fosse escrever sobre - diria ser 100% dominado por Thomas Mann, até em tempos complicados, como o subjonctif e o plus-que-parfait. E, ultimamente, dos pilriteiros de Proust. E, não tão recentemente, do Grande Sertão do Rosa; de uma tarde, em Angra, em que eu devorei mais de 150 páginas do discurso de Riobaldo... E de Diadorim morta, coitada. E claro que li clássicos fora das férias também; e nem sempre em "dias fora do tempo". Anna Karenina entre Vronski e Karenin, enquanto Lievin trabalhava no campo - e me transmitia aquele bem-estar depois de descansar nos montes. E O Príncipe, de Maquiavel, nas escadarias da FAU, enquanto eu esperava a Carol chegar - e enquanto espreitávamos à porta os comentários de Renato Janine Ribeiro, no curso de Filosofia da USP, sobre a obra. E Crime e Castigo, que comecei umas três vezes, em três épocas (e edições) distintas, antes de terminar - e que eu considerei menor, muito menor, do que os Irmãos Karamazov (por talvez tê-lo lido tarde demais...). E a Metamorfose, que eu imaginei acontecendo no meu antigo quarto, e que o gerente - que podia ser o meu, naquele então - batendo à porta, enquanto meus pais tentavam despistá-lo. E a História da Filosofia Ocidental, de Bertrand Russell, em inglês - livro ao qual eu sempre iria voltar, quando "descobrisse" um novo filósofo e quisesse, mesmo que para discordar, anotar a opinião daquele velho sábio, professor de Wittgenstein (mais ou menos como com o Otto Maria Carpeaux, de quem eu tenderia a discordar mais...). Às vezes eu penso que esses "dias" vão passar, que esse enlevo se tornará cada vez mais raro e inacessível, dentro da rotina que escolhi e à medida que for avançando na "floresta do conhecimento", e for, pretensamente, esgotando as "novidades". Alguém uma vez falou que invejava quem não tivesse lido ainda Shakespeare, pois só os não-iniciados poderiam sentir aquela sensação de descoberta que não volta. Tomando um exemplo mais prosaico: na mesma linha do que a personagem de Invasões Bárbaras disse ao protagonista, quando ela o iniciava num dos mistérios das drogas, alertando-o para o fato de que aquela "primeira vez" seria sempre insuperável e de que, nas subseqüentes, ele iria apenas persegui-la resignado. A discussão sobre as "primeiras vezes" é longuíssima e eu não vou entrar nela porque acredito que a perda da "virgindade literária" não encontra paralelo numa, digamos, conversa sobre sexualidade... Ao mesmo tempo em que quase desisto da epifania diante de um grande autor, ela volta desavisada - igualmente intensa, mas de uma duração inferior. Foi, outro dia, com Kant - que sempre me passou uma imagem árida e intragável (meu tio me presenteou com a Crítica da Razão Pura afirmando que o livro lhe provocara dores de estômago no tempo da universidade...). Devo estar então louco por tê-lo considerado até palatável, quando a quase totalidade dos pensadores o aponta como intransponível ou, no mínimo, de um linguajar um tanto quanto áspero. Talvez, simplesmente, eu esteja diante de um clássico e - como o próprio Kant falou do Émile de Rousseau - é preciso lê-lo, ao menos, duas vezes: uma para se embasbacar; e outra para aproveitá-lo de verdade. O certo é que entre clássicos, não-clássicos, "dias dentro" e "dias fora", vamos levando - e nos deixando levar. Julio Daio Borges |
|
|