|
|
Terça-feira, 5/9/2017 Crítica/Cinema: entrevista com José Geraldo Couto Jardel Dias Cavalcanti  Discutir o sentido da crítica de cinema, os limites de sua ação num campo marcado pelas leis do mercado, questionar os limites da conceituação de filmes de arte e cinema comercial, localizar alguns aspectos do cinema no Brasil e de sua crítica frente à presença dominante dos blockbusters na totalidade das salas de cinema, eis o que propomos, além de outras questões, ao crítico de cinema José Geraldo Couto, nessa entrevista que ele gentilmente concedeu ao digestivocultural. Os entrevistadores foram Jardel Dias Cavalcanti (colunista do site) e João Pedro Mussato, aluno de Filosofia e do meu curso de Crítica de Arte na UEL e organizador do livro: Buster Keaton: o palhaço que não ri. Londrina: Kinopus, 2016). José Geraldo Couto é crítico de cinema, jornalista e tradutor. Trabalhou na Folha de São Paulo e na revista Set. Publicou, entre outros livros, André Breton, Brasil: Anos 60 e Futebol brasileiro hoje. Participou com artigos e ensaios dos livros O cinema dos anos 80, Folha conta 100 anos de cinema e Os filmes que sonhamos, entre outros. Escreveu sobre cinema para a revista Carta Capital e tem uma coluna sobre cinema no blog do Instituto Moreira Salles. JARDEL: A crítica romântica alemã defendia a ideia da crítica como uma ampliação da obra, uma continuidade criadora daquilo que o artista fez. Um pouco nessa linha, Jean Starobinski, diz: “A crítica não pode permanecer dentro dos limites do saber verificável; ela deve fazer sua própria obra, correndo os riscos da obra.” (Le Sens de la Critique). Ao mesmo tempo, Starobinski defende a ideia de que a crítica boa tem um pouco de inspiração, instinto e improvisação, golpes de sorte e estados de graça, mas que são necessários princípios reguladores sólidos que a guiem sem oprimir seu objeto. Você concorda com essa posição a respeito da função da crítica? J. G. COUTO: Não só concordo como acho difícil encontrar uma formulação mais feliz. Existem, evidentemente, inúmeras modalidades e estilos de crítica, mas a que mais me interessa, e que me parece mais fecunda é aquela que se serve do maior conhecimento teórico-prático possível, mas sem que este se anteponha à experiência do contato direto com a obra. Como disse Paulo Emílio sobre André Bazin (mas poderia estar falando de si próprio): “O que causa maior admiração é observar como esse homem dotado de excepcional capacidade para as grandes e rigorosas construções teóricas se desarmava voluntariamente diante dos filmes, evitava escrupulosamente impor às obras qualquer sistema pré-estabelecido e concedia-lhes lealmente todas as oportunidades de revelação”. JARDEL: Susan Sontag, no ensaio Contra a Interpretação, nos fala do esgotamento das análises conteudistas das obras de arte. Cito-a: “Pressupomos que a obra de arte é seu conteúdo. (...) É o hábito de abordar a obra de arte para interpretá-la que reforça a ilusão de que algo chamado conteúdo de uma obra realmente existe. (...) A Arte verdadeira tem a capacidade de nos deixar nervosos. Quando reduzimos a obra de arte ao seu conteúdo e depois interpretamos isto, domamos a obra de arte. A interpretação torna a obra de arte maleável, dócil. (...) Numa cultura cujo dilema já clássico é a hipertrofia do intelecto em detrimento da energia sensorial, a interpretação é a vingança do intelecto sobre a arte.” Nesse sentido, pergunta a própria Sontag: “Como teria de ser uma crítica adequada à obra de arte, que não usurpasse seu lugar?” A resposta dela é por uma “erótica da arte”, uma busca por revelar “a superfície sensual da arte sem conspurcá-la.” No caso do cinema, em que pese-se a fotografia, a música, os enquadramentos, a interpretação do ator etc, como você pensa essa crítica da Sontag à interpretação conteudista? J. G. COUTO: Penso que essa crítica da Susan Sontag é pertinente à interpretação conteudística dos filmes, entendida como algo alheio à forma que os constitui. Mas algum grau de interpretação sempre haverá, e isso a meu ver é inevitável e saudável, desde que não se apresente como “última palavra”, fechando portas para outras leituras. O importante é manter a obra viva, reconhecer que ela sempre escapará a qualquer redução ou interpretação fechada. JARDEL: A miséria da crítica de cinema hoje, segundo Luiz Carlos de Oliveira Jr., é que o que lhe basta é apenas que exista “um filme que funciona”. Isso, segundo ele, “representa o esvaziamento do espaço crítico e a iminência de um estado acrítico.” A crítica perdeu sua capacidade de espanto diante do filme mediano? J. G. COUTO: Considero o filme mediano, de certa forma, o mais difícil de abordar em termos críticos, uma vez que, sendo convencional em sua linguagem, ele quase força o crítico a falar sobre seu tema, sobre as questões morais, sociais ou políticas envolvidas, sem atentar muito para a construção estética. Passa a ser quase uma crítica cultural mais genérica, perdendo um pouco o rigor e a atenção às questões formais, de construção audiovisual. Essa ideia do filme que “funciona” ou “não funciona” é de fato nefasta, pois coloca em primeiro plano critérios essencialmente comerciais, industriais, que veem o filme como um produto – e que têm como parâmetro oculto as grandes bilheterias do cinema hegemônico, isto é, hollywoodiano.  JARDEL: Em uma de suas críticas, publicada no blog do IMS, você diz: “Enfim, que importa que o crítico resmungue? Como disse o outro, ´a plateia aplaude e ainda pede bis; a plateia só deseja ser feliz´”. Qual o papel do crítico na educação dessa plateia para que ela passe a desejar do cinema mais do que apenas ser “feliz”? J. G. COUTO: É difícil falar sobre o público em geral, pois há inúmeros grupos sociais, culturais, de gênero etc, e incontáveis sensibilidades individuais. E os veículos em que escrevem os críticos também têm seus públicos diferenciados. Quando escrevi aquilo, eu me referia ao público espectador mais amplo, que não se interessa pelo que diz a crítica. Mas sabia que estava sendo lido, ou assim pretendia, por leitores que não se enquadram nessa categoria mais ampla e que se interessam, sim, por pensar o cinema criticamente. Era quase uma maneira indireta de buscar cumplicidade, dentro dessa consciência de que estamos conversando num espaço limitado, quase num nicho ou gueto, que não tem a menor influência sobre o desempenho de um filme na bilheteria. JARDEL: Como você pensa a famosa oposição entre “cinema de arte” e “cinema comercial”? Pode-se separar os filmes nessa categoria, quando várias gêneros artísticos dissolveram a oposição entre alta, média e baixa cultura? J. G. COUTO: Penso que essa é uma oposição redutora, que não deve ser usada senão em ocasiões muito especiais, como ferramenta didática precária e provisória, sempre sob grossas aspas. Hitchcock é “comercial” ou “de arte”? E Chaplin? E “O Poderoso Chefão”? O cinema surgiu como uma diversão popular, atração de feira, e só depois ganhou status de “arte”, mas essa respeitabilidade pouco importa, a meu ver. Um filme dito “comercial” pode ter muito mais inventividade, energia e até mesmo inteligência que muitos filmes concebidos como “obras de arte”. Penso que o importante é apreciar um filme pelo que se propõe e pelo que ele alcança, sem se preocupar com hierarquias prévias. Costumo repetir o ditado espanhol que diz que “não se deve pedir peras ao olmo”. Spielberg não é Antonioni, é Spielberg. Cada um deles amplia as possibilidades do cinema numa direção diferente, e é ótimo que seja assim. JARDEL: Que elementos você acha que são importantes para a realização de uma boa crítica de um filme? J. G. COUTO: Pergunta dificílima. O cinema, conforme definiu o Julio Bressane, atravessa todas as disciplinas, e é atravessado por elas. Em vista disso, o crítico ideal seria aquele que tem o maior conhecimento possível de todas as artes (pintura, música, literatura, teatro), além do conhecimento específico da técnica e da linguagem cinematográfica, além da história do cinema e de sua fortuna crítica, e mais: de história social, filosofia, psicanálise, antropologia... Claro que ninguém domina todas essas áreas, mas penso que quanto mais o crítico tiver ao menos rudimentos delas ele estará mais preparado para ler melhor um filme. Mas, além do conhecimento, há que ter sensibilidade, paixão, curiosidade, abertura para o desconhecido, vontade de descobrir. Para completar, capacidade de síntese e clareza de exposição. Ou seja, o crítico ideal não existe, mas não custa ter essas metas como horizonte a ser buscado. 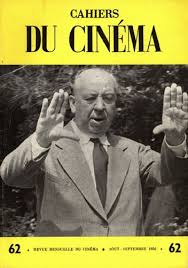 JARDEL: Vários cineastas migraram da prática de crítica de cinema para a profissão de cineastas. Exercendo a crítica parecem ter aprendido parte do ofício do cinema. A crítica ajuda a formar bons criadores de cinema? J. G. COUTO: Não saberia responder com certeza, mas a observação empírica indica que é possível, a julgar pela quantidade de bons cineastas que começaram pela crítica: os da Nouvelle Vague, na França, os do Cinema Novo, no Brasil, um Peter Bogdanovich nos Estados Unidos. Resta saber se eles se tornariam cineastas de qualquer modo e exerceram a crítica apenas com porta de entrada, etapa intermediária ou se, ao contrário, foram levados a pretender fazer cinema a partir da reflexão sobre o meio e suas obras. Acho que os dois casos devem ser frequentes. JARDEL: O que você acha das adaptações de obras literárias para o cinema? J. G. COUTO: Puxa, isso é impossível de responder numa entrevista. Costumo dar um minicurso de cinco aulas de três horas cada sobre o assunto, que é inesgotável. Um dos meus objetivos, no curso, é justamente desmitificar alguns clichês sobre filmes inspirados em obras literárias, para mostrar que são inúmeras as possibilidades de diálogo entre os dois meios de expressão. JOÃO PEDRO: Pelo número de produções realizadas no país, podemos dizer que se trata de um momento especial de nossa história, pelo menos em nível estatístico. Até onde sei, você começou a trabalhar com cinema na época do governo Collor, que ficou marcado por extinguir a Embrafilme e reduzir drasticamente a produção nacional. Tendo em vista que, desde então, você acompanhou de perto essa trajetória que hoje desemboca em uma vasta produção, gostaria de saber qual a avaliação que você faz do cinema brasileiro desde a retomada. De maneira geral, quais aspectos positivos esses novos cineastas trouxeram à nossa filmografia? Você acha que a quantidade de filmes produzidos hoje está se traduzindo também em qualidade? J. G. COUTO: Na verdade comecei a trabalhar com crítica de cinema e jornalismo voltado para a área ainda nos anos 1980, antes de Collor e do fim da Embrafilme. Mas não vem ao caso. Penso que o cinema brasileiro cresceu muito, amadureceu e se diversificou desde a retomada. Mas não se trata, claro, de um processo linear, isento de retrocessos e contradições. Hoje temos uma produção numerosa, variada e relevante. Claro que grande parte da produção não é de boa qualidade, mas isso vale para qualquer cinematografia do mundo. Mas o problema maior do cinema feito no Brasil hoje é o de asfixia do mercado exibidor, ocupado em grande parte por blockbusters estrangeiros e nacionais. Há um abismo entre umas poucas produções da Globo Filmes, que atingem milhões de espectadores, e as centenas de filmes que não chegam a dez mil ingressos vendidos, isso quando chegam ao circuito. O problema, portanto, é de distribuição e exibição. Há uma voracidade do mercado (além da elitização e da concentração em shoppings e multiplexes) que não permite que os filmes encontrem seu público. Isso é muito frustrante, porque muitas vezes são filmes esteticamente fortes e socialmente relevantes, mas que são muito pouco vistos, mesmo quando são bem recebidos pela crítica, pelos festivais internacionais etc. 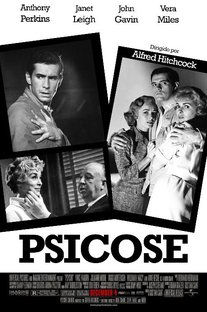 JOÃO PEDRO: Você acha que o cinema brasileiro contemporâneo adquiriu algum tipo de maneirismo ou estereótipo, tanto relacionado aos aspectos estéticos, isto é, à forma como os filmes são realizados, quanto também ao conteúdo que expõem? É claro que, para não generalizar, você pode distinguir nossa atual produção em quantas subdivisões preferir. J. G. COUTO: Seria necessário examinar caso a caso, mas, sim, alguns estereótipos são evidentes, sobretudo no segmento mais nitidamente industrial-comercial da produção, as comédias globais, imprecisamente chamadas de globochanchadas. Há nelas, no mais das vezes, o insistente recurso a procedimentos cômicos oriundos das sitcoms e dos humorísticos televisivos, juntando aí clichês de linguagem e estereótipos sociais, comportamentais, morais. Mesmo no cinema dito independente e/ou experimental notam-se às vezes alguns modismos e cacoetes, mas acredito que isso aconteça praticamente em todas as cinematografias. JOÃO PEDRO: Nas estatísticas mercadológicas lançadas anualmente pela Ancine, é evidente a grande disparidade entre cinema brasileiro e cinema estrangeiro. Em 2016, por exemplo, a arrecadação de filmes brasileiros não chega a 15% do faturamento total do mercado exibidor – e foi um ano em que a adaptação da Record, ‘Os Dez Mandamentos’, bateu recorde de bilheteria. Analisando apenas o desempenho das produções brasileiras, a desproporção talvez fique mais gritante: 70% do consumo de cinema nacional se restringe à apenas cinco filmes. No entanto, estes números não são de hoje, mas de um passado que talvez se apresente mais longo do que imagino. Nesse sentido, gostaria de saber de que modo isso influencia o trabalho do crítico, desde a escolha do filme a ser analisado (vejo que aborda um bom número de filmes brasileiros) até o futuro contato com o leitor, que muitas vezes acaba possuindo um olhar guiado por blockbusters. J. G. COUTO: Não sei se posso falar pelos críticos em geral. Hoje não escrevo para um veículo de grande circulação, mas para um blog de um instituto cultural (o Instituto Moreira Salles), o que me dá uma liberdade maior para tratar dos filmes que me interessam e sobre os quais acho que tenho algo a dizer, mesmo que eles atinjam um público limitado. Posso me dar ao luxo de ignorar o blockbuster da vez, seja ele de Hollywood ou da Globo. Mas vejo que meus colegas que ainda atuam na chamada grande imprensa têm cada vez menos espaço para falar sobre os filmes de fato relevantes e expor seu pensamento sobre o cinema. Há uma pressão (direta e indireta) do mercado para que todo o espaço seja ocupado pelos campeões de bilheteria, e há uma lógica do entretenimento e da cultura das celebridades que já contagiou uma grande massa de leitores. Isso evidentemente restringe muito o espaço e a importância concedida ao trabalho do crítico. JOÃO PEDRO: O produtor americano Robert Evans diz que o papel da crítica, em sua época, era de consolidar o filme comercialmente. Isso porque os filmes eram lançados em pequenas salas e, às vezes, em pequenas cidades, e só a partir da resposta do público e da crítica, passavam a um número maior de salas. No entanto, este cenário mudou, de modo que as distribuidoras aplicam grande quantidade de dinheiro na divulgação e sua disseminação no mercado já é certa. Podemos dizer, portanto, que o produtor não tem mais preocupação com a opinião da crítica, ou, pelo menos, não depende mais dela, como antigamente. Qual a saída para o crítico enquanto profissional? Qual seria o papel do crítico nos dias de hoje? Você acha que, futuramente, ainda existirá crítica profissional? J. G. COUTO: Acho que há gradações aí. No caso dos filmes de grande apelo junto ao público, que já chegam aos cinemas com um imenso trabalho de marketing direto e indireto (o que inclui as matérias jornalísticas, entrevistas com atores, supostos “vazamentos” de informações de bastidores etc.), a influência da crítica sobre a bilheteria é nula. Quanto aos filmes “independentes”, brasileiros ou de outras cinematografias não-hegemônicas (asiáticos, latino-americanos, do leste europeu etc.), sua fragilidade maior, o circuito reduzido de exibição, o tempo escasso que têm para conseguir se firmar com uma propaganda de boca, tudo isso faz com que a crítica possa ter alguma influência no desempenho na bilheteria. JOÃO PEDRO: No cinema contemporâneo, me parece que há uma tendência cada vez maior à hibridização, àquele certo tipo de filme em que não conseguimos reconhecer exatamente se trata-se de um documentário ou de uma ficção. Por um lado, podemos pensar no elogio de Godard, que afirmou que todo bom documentário se parece um pouco com uma ficção e vice-versa; ou na leitura de Bazin, que vê no cinema uma arte com inclinação ao realismo. Entretanto, há também uma afirmação recente de Inácio Araújo que problematiza a questão: o ‘baseado em fatos reais’ representa uma descrença do público em relação ao cinema, uma queda no poder de ficcionalização. Gostaria de saber como você interpreta essa tendência ao cinema híbrido, nem documentário nem ficção. J. G. COUTO: De novo, seria necessário examinar caso a caso, mas de modo geral considero muito saudável essa diluição de fronteiras entre a ficção e o documentário, até pelo reconhecimento quase unânime, hoje, de que o documentário tem sempre uma grande dose de subjetividade e de construção ficcional. Qualquer documentário, alguns mais, outros menos. E essa vertente híbrida produziu nos últimos tempos alguns filmes interessantíssimos, plenos de inteligência e energia, como, no caso brasileiro, Branco sai, preto fica, do Adirley Queiroz, O céu sobre os ombros, do Sérgio Borges, e os filmes do André Novais.  JOÃO PEDRO: Atualmente, você tem escrito bastante também sobre clássicos, às vezes apoiado em um filme, outras, em uma filmografia. No entanto, costuma construir relações entre essas obras e o nosso momento atual, como, por exemplo, a recente comparação feita entre Taxi Driver (Scorsese, 1976) e os Estados Unidos de Donald Trump. Parece, portanto, ser a chance de olhar ao passado para compreender o presente. De que modo você acha que esses filmes podem educar o olhar do público atual? Havendo resistência por parte do público diante de tais obras, você crê que o crítico pode ajudar a quebrar essa barreira, ou seria mais uma questão de trabalhar qualitativamente uma audiência já segmentada? J. G. COUTO: Tenho a convicção, ou ilusão, de que o trabalho do crítico tem uma dimensão pedagógica, de abrir caminhos para a ampliação do repertório de seus leitores, de estímulo a outras leituras, outros filmes, outras reflexões. Eu gostaria, claro, de falar com um público mais amplo, desde que não fosse preciso baratear o pensamento, sonegar informações, exercer qualquer tipo de média ou condescendência. Não quero “pregar para convertidos”, mas minha esperança é de despertar a curiosidade, a inquietação, em leitores, sobretudo os jovens, para que eles passem a pensar o cinema de uma maneira mais ampla e generosa. E conversar com quem já ama o cinema e o reconhece como um terreno de conhecimento do mundo e alargamento da sensibilidade. Talvez sejam poucos, mas esses poucos semearão outros terrenos, levarão a chama adiante. Quando eu não acreditar mais nisso, estará na hora de me aposentar. JOÃO PEDRO: Você é formado em história e lecionou por algum tempo. Além disso, já escreveu sobre futebol e em outras áreas. Como esses outros campos ajudaram na sua formação do crítico de cinema? Mais especificamente na área de história, até que ponto o cinema brasileiro colabora para uma preservação de nossa memória? J. G. COUTO: O cinema é um instrumento privilegiado de preservação da memória histórica, incluindo evidentemente a memória da cultura, da dimensão imaginária e simbólica. Existe uma mostra de cinema, a CineOp, realizada anualmente em Ouro Preto, que é voltada exatamente para essa dupla questão: a preservação dos filmes e a preservação da memória social por meio dos filmes. O problema é que a preservação do patrimônio audiovisual brasileiro é muito precária, sujeita aos caprichos do poder público e à escassez crônica de verbas. Então, respondendo sua pergunta: o cinema brasileiro contribui muito para a preservação da nossa memória (basta ligar a TV no Canal Brasil para constatar isso), mas poderia e deveria contribuir muito mais se houvesse um empenho maior do poder público e das instituições culturais nesse sentido. Jardel Dias Cavalcanti |
|
|

