|
|
Sexta-feira, 17/3/2023 O engenho de Eleazar Carrias: entrevista Ronald Polito Eleazar Venancio Carrias nasceu em 1977 no interior do Pará. Mestre em educação pela UnB, atualmente faz doutorado em educação na UFPA. Trabalha como pedagogo no Instituto Federal do Pará — Campus Tucuruí, e vive em Breu Branco, sudeste do Pará. Publicou três livros de poemas: Quatro gavetas (2009), Regras de fuga (Editora e-galáxia, 2017) e Máquina (Editora Urutau, 2021). A entrevista a seguir aborda seu último livro, Máquina, em que talvez possamos notar alguns traços não muito comuns na poesia brasileira contemporânea. Em termos temáticos, por não priorizar a pauta recorrente em torno dos muitos excluídos do país, ainda que ela também esteja no livro, e em termos formais, pela busca da clareza, da simplicidade e da objetividade ao abordar os problemas tensos que mobilizam o poeta, sem que esses mesmos traços formais redundem em sentidos óbvios, imediatos, evidentes. É desse jogo entre clareza e ocultação, ou melhor, perplexidade diante do que pode ter significado, fazer sentido, que o poema tenta chegar à luz. Você escolheu três epígrafes em que a política ocupa o proscênio de modo explícito. No entanto, a maior parte de seus poemas não se formula nesses termos. O que você pretendia com esse contraste? Essas epígrafes sintetizam uma narrativa histórica sobre a política no Brasil, uma narrativa que pede um basta. Juntas, elas criticam a impotência da escrita literária diante dos nossos velhos problemas sociais, ambientais etc. e nos provocam a nos revoltarmos, efetivamente. Em relação ao livro, são também uma autodenúncia, um modo de assumir a própria impotência. Particularmente, considero o Máquina um livro altamente politizado. Como você observou no início da nossa conversa, a temática dos excluídos está presente no livro, assim como a questão do trabalho, nossa relação com o tempo, a violência doméstica etc. Acontece que a necessária politização das artes, ocorrida nas últimas décadas, incluindo a poesia, levou boa parte do público a considerar “politizada” apenas a literatura que se diz engajada, que se apresenta sob os termos da militância. E é verdade: a maioria dos meus poemas não se formula nesses termos. Ainda assim, minha poesia é politicamente engajada, como o é todo fazer artístico. Vale o velho clichê: quem diz não fazer política, está fazendo política. As epígrafes que escolhi servem justamente para isso. Apontar o caráter profundamente político da minha escrita, inclusive quando ela falha como ferramenta de transformação social. Desistir, não construir e mesmo arruinar são estratégias contra a “máquina do mundo” e “a coisa”. São os únicos meios para manter o desejo, conseguir dormir e o direito a nomear? Certamente há outros meios. Gostaria de focar dois pontos. Primeiro, mais que um direito, nomear as coisas é uma necessidade, uma maldição herdada no processo de transformação do macaco em ser humano. Um nome pode conter beleza e potência, mas todo nome é um estigma, e funciona como uma pele: você não pode vestir o nome que bem quiser sem consequências incômodas. É um paradoxo: por um lado, os nomes fundam a linguagem e, consequentemente, facilitam a comunicação; por outro, eles impõem fronteiras e podem gerar conflitos pessoais e políticos em todos os níveis, inclusive na comunicação. Contra isso, não há estratégia possível. Segundo, sempre é preciso desistir do objeto desejado se queremos manter o desejo. Morremos um pouco cada vez que temos um desejo realizado. O poema “A máquina”, que abre o livro, trata disso. A imortalidade sempre fascinou os humanos, por isso criamos os mitos, escrevemos livros. A eternidade, porém, só existe no instante. Só o instante é eterno, é o único tempo que não passa. Além disso, viver para sempre seria a pior das mortes. O nosso corpo sabe disso, por isso dormimos. 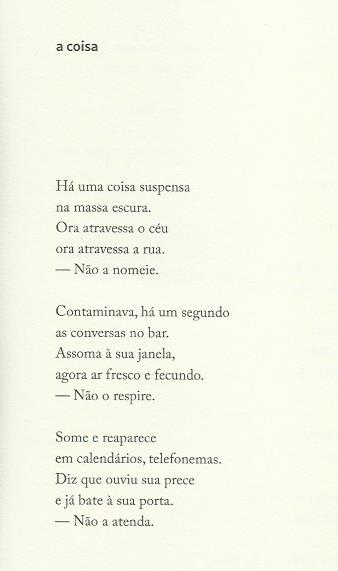 Não; de forma alguma. A voz nesse poema, “Razão do sabonete”, é a de um cidadão politicamente conservador, portador de uma racionalidade higienista, moralista. O famigerado “cidadão de bem” que defende Deus, pátria e família. Ele acusa o poeta de defender o próprio umbigo, mas é ele quem, ao chegar ao poder, invariavelmente rouba do povo e do Estado, em favor de si e da sua “família” (incluídos os parceiros de crime). Esses, sim, só se comunicam pelo cordão umbilical. A certa altura, seu corpo era o único mistério, traduzido numa investigação homoafetiva. Continua sendo? Surgiram outros mistérios? Continua sendo, mas sem o mesmo entusiasmo da infância, claro. O corpo é inesgotável em seus mistérios. Tem um diálogo num livro da Hilda Hilst de que gosto muito. Ehud diz: “a alma sente”. Hillé responde: “a carne é que sente”. Hoje o mistério que mais me fascina é a unidade do corpo e da mente. E começo a compreender que essa relação não existe sem erotismo. Não só as sensações libidinais. Pensar é ser movido por forças eróticas. Dois poemas tratam de um tema explosivo: a pedofilia (não lembro outros exemplos na poesia brasileira). Eles apontam direções talvez opostas: no primeiro, o personagem não ficou “dodói”; no segundo, só quer retornar ao útero. Haveria um terceiro caminho? O personagem é um só. Primeiro, ele se engana ao achar que não foi seriamente afetado pelo abuso sexual, dada a sua inocência à época. É a negação do trauma. Mas o trauma sempre volta, e, quando isso acontece, a dor é tão grande que ele preferiria não ter nascido. E aqui se impõe de novo a questão inicial. Falar disso num poema é extremamente político. Há coisas que palavras não resolvem. Sobre essas, mais que quaisquer outras, devemos falar. No caso citado, esse foi justamente o terceiro caminho. Haveria uma perspectiva telúrica em seu projeto? Não apenas nas menções diversas ao ambiente amazônico, mas na busca do que seria natural, quando “o mundo se punha claro diante de ti”? Como articular o que pode ser humano e a cultura como beco sem saída? Eu não tenho um projeto, mas, sim, meus poemas têm essa conexão com a Terra. Principalmente os mais recentes. Eu vejo a cultura como algo natural. Não há cultura que não seja da natureza. Mas admito certa saudade de uma vida na natureza “bruta”, provavelmente por causa da minha infância no meio do mato. Minha cultura urbana é pouca e rasa, a não ser pelas contaminações via internet. Acho que não tenho uma resposta. As pessoas começaram a entender que não podem ser plenamente humanas sem resgatar o seu lado macaco. Elas fazem retiros ecológicos, consomem produtos in natura, buscam religiões ancestrais. Não há esperança. Só dor. E apodrecimento. O único escape é escrever contra a escrita? Como? Toda escrita se faz contra si mesma. Ao realizar-se, a escrita renuncia à verdade e se lança aos leões na cova da interpretação. Escrever sem esperança. Parece que chegamos a um ponto da história no qual ter esperanças é algo vergonhoso ou mesmo cínico, no sentido vulgar do cinismo. Não mais é possível defender a esperança como horizonte utópico. Talvez isso tenha funcionado para algumas gerações passadas: uma espécie de fé ideológica, ajudando as pessoas a seguir em frente com suas lutas, o sonho de construir um futuro melhor para todos. Mas o futuro não veio, obviamente. Talvez a esperança tenha nos afastado muito de nós mesmos, do chão onde pisamos. E, sim, existem formas de viver a esperança como ação política. Veja Paulo Freire. Mas no geral a ação motivada pela esperança carece de radicalidade, insubordinação e revolta com o aqui-agora. 570 crianças yanomamis morreram enquanto militávamos nas redes sociais, esperando Bolsonaro cumprir seus anos na Presidência. Por isso é preciso esperar contra a esperança. 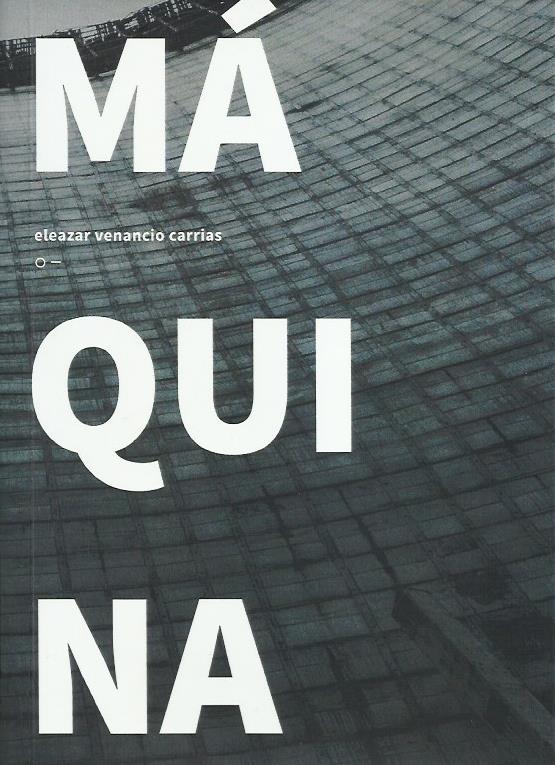 Ronald Polito |
|
|

