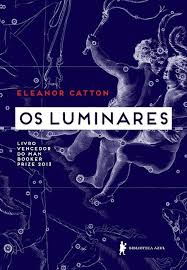|
|
Quinta-feira, 9/10/2014 Eleanor Catton e seus luminares Eugenia Zerbini
(com a colaboração de Tiago Germano) It's a long long while/From May to December/ But the days grow short/When you reach September... Escuto a melodia na personalíssima execução de Ute Lemper. No Hemisfério Norte, realmente, os dias ficam mais curtos em setembro, de acordo com a bela September song, canção do final dos anos 1930 (música de Kurt Weill e letra de Maxwell Anderson). Setembro, no entanto, não encurta livros. Deixei a leitura de Os luminares, de Eleanor Catton (1985 -), cartapácio vencedor do Man Booker Prize de 2013, para esse mês. Momento mais relaxado, pós-Flip, em descontraída espera pela primavera. A leitura tomou-me o mês. E não sei se valeu a pena. Já escrevi mais de uma vez sobre Eleanor Catton. Aqui e aqui, entusiasmada com a descoberta de O Ensaio, seu livro de estreia, concluído aos 22 anos. De alguma forma, senti-me traída pela empolgação. Perdoe-me a escritora por quem um dia me apaixonei, mas Os Luminares não é um bom livro. A história poderia ser resumida em quatrocentas páginas. Será que Catton estendeu-se no dobro desse número para chamar atenção, num mundo em que o talento está em dar o recado em 140 toques? A arquitetura da narrativa é impecável. São 12 personagens, considerados como astros do firmamento, circulando através de 12 casas, ou seja, lugares físicos (como uma jazida, um antro de ópio, uma prisão, o escritório de um jornal...). A autora, dessa forma, recria na Nova Zelândia (mais especificamente em Hokitika, cidade da costa Oeste da Ilha do Sul) a ordem pregada pela Astrologia. Signos, cada qual regido por um planeta, correspondentes às 12 casas zodiacais. Daí o título da Parte I, "Uma esfera dentro de outra esfera", em que ficamos sabendo, por meio de capítulos, dos enredos por detrás de cada um dos 12 personagens que se encontram no salão de fumantes do Crown Hotel, em Hokitika, na chuvosa noite de 27 de janeiro de 1866. À testa de cada capítulo, há um resumo, colocado na posição de epígrafe, antecedido de uma indicação astrológica . No caso do capítulo de abertura, lê-se no alto da página "Mercúrio em Sagitário". Aquele primeiro é um planeta de "Ar", que rege a comunicação, a oratória, as informações, as negociações. Basta se lembrar de seu correspondente grego, o deus Hermes, espírito volátil, o mensageiro do Olimpo. Por sua vez, Sagitário é signo simbolizado por um centauro, parte animal, parte humano, regido pelo elemento "Fogo". Nesse sentido, Mercúrio em Sagitário espelha um desconforto, e pode significar a busca, meio sem paciência, do conhecimento, que, por sua vez, não se entrega com facilidade. No concreto, pode ser visualizado, por um lado, como alguém que fala, fala e fala, mas nunca escuta os outros, e, em consequência, cria mal entendidos. Por outro (frisando que, com relação a Mercúrio - divindade das encruzilhadas - , tudo tem dois lados, uma vez que Hermes, apesar de ser a magia contra os ladrões, ao mesmo tempo os protege), essa posição impulsiona as grandes aventuras em busca de conhecimento. Em resumo, Mercúrio em Sagitário é a Torre de Babel, o discurso de Hermes tencionado no arco do Sagitário. Coincidência, ou não, essa é a tônica que rege a abertura da obra: " Os doze homens reunidos no salão de fumantes do Crown Hotel davam a impressão de terem se encontrado ali por acaso. Pela diversidade de suas roupas e comportamentos - túnicas, fraques, casacos Norfolk com botões de chifre de boi, gabardinas amarelas, cambraia e brim -, eles poderiam ser tomados por doze estranhos em um comboio de trem, cada qual rumando a um destino de uma cidade imersa em névoa e marés suficientes para separá-los;............. Tal foi a percepção do Sr. Walter Moody, parado junto à soleira, com a mão apoiada na moldura da porta". Walter Moody é o jovem advogado inglês, recém-chegado à cidade, em busca da fortuna na corrida do ouro, protegido por um nome falso. Inicia uma longa conversação com um agente portuário, Thomas Balfour, que o bombardeia com toda sorte de perguntas, não respondendo nenhuma das questões que lhe são dirigidas. "A minha impressão, de início, era de que as iscas não justificavam o tamanho do peixe, se é que você me entende". Em um inventivo tipo de crítica epistolar, mantida ao longo da leitura com o jornalista Tiago Germano, do Jornal da Paraíba, continuando, ele indagou: "Não sei se minha leitura foi um pouco prejudicada por eu não entender patavinas de astrologia". Apesar das especulações do significado de Mercúrio em Sagitário, acredito que esse conhecimento não é relevante na fruição de Os luminares. Mesmo porque, mais próximo do final, essas indicações astrológicas serão substituídas por títulos que pouco tem a ver com o zodíaco: "Ouro", "Cobre", "Wu Xing", "Ferro", "Te-re-o-tainui"... O título do último capítulo tem o mesmo nome dado livro: "Os luminares". E pelo longo resumo, à guisa de epígrafe, nos é confirmado que, de fato, os personagens são os próprios astros regentes de seus atos. O que me surpreendeu em Os luminares foi, além da engenharia da obra, o uso feito pela autora do elemento tempo. O primeiro terço do volume é, em síntese, a conversa de W. Moody com cada um dos 12 "signos", no período de uma noite, antes que eles começassem a movimentar-se pelas 12 "casas". Gostei dos pequenos diálogos escritos em cantonês fonético (ainda que poucos compreendam, acrescentam novos mistérios).O que me incomodou durante a leitura foi a abundância de detalhes na narrativa. Adotando propositalmente um estilo vitoriano, antiquado (que, todavia, pode ser atraente, como no caso de Madame Oráculo, da grande dama Margareth Atwood), Eleanor Catton entra em minúcias com relação não apenas ao léxico náutico - brigues, bergantims, fragatas, castelo de proa - como também aos métodos de concessão da exploração do ouro e de sua administração pelas autoridades neozelandesas de então. E, como já mencionados, há os mistérios. Resolvido um, aparece outro, abrindo-se como folhas de alcachofras, sem nunca chegar ao coração. "- Fui embarcando nos mistérios, mas fiquei meio decepcionado pelo grande número deles, em detrimento da força que ele poderiam ter: quero dizer, eles são muitos, mas nenhum parece ter vigor suficiente para render o tanto que ela tira deles. (Será que estou sendo claro?) - confessou-me Tiago Germano -. " No final das contas toda a narrativa parece se desenrolar para explicar algo que estava sempre lá, o tempo todo, como um megaespecial de fim de ano daquele desenho, Scooby-Doo, lembra?" - chegou a indagar-me meu interlocutor. Concordamos, eu e ele, em um ponto: será que não buscamos justificativas demais para explicar a qualidade do livro? Em tese, o belo, como já escreveu o Conde de Leautréamont (1846-1870), pode ser o encontro casual, sobre uma mesa de dissecação, de uma máquina de costura com um guarda-chuva. No romance, além dessa beleza descosida, é necessário algo a mais não para que as coisas apenas funcionem, mas para que também convençam. Algo de humano ficou desta vez para fora do cerebrino trabalho de Eleanor Catton. Um livro complexo corresponde uma coluna igualmente complexa. Aos que se arriscaram a chegar até o final, um tipo de premiação: a September song do início, na voz de Ute Lemper. Eugenia Zerbini |
|
|