Quarta-feira,
28/9/2011
Digestivo nº 482
Julio
Daio Borges
| >>>
INSIDE WIKILEAKS OU OS BASTIDORES DO WIKILEAKS
Em termos de mídia, o WikiLeaks foi o grande acontecimento de 2010. A ponto de Julian Assange, o fundador do projeto, ter sido cotado pela revista Time como "personalidade do ano" (no lugar de Mark Zuckerberg, então sobrevalorizado pelo filme The Social Network). E Inside Wikileaks, ou Os Bastidores do Wikileaks (na tradução da editora Campus), poderia ter sido um dos livros do ano de 2011, mas, infelizmente, não o foi. Não se trata, ainda, do livro do próprio Julian Assange ― pelo qual ele já haveria recebido 1 milhão de dólares de adiantamento ―, mas, sim, do depoimento de Daniel Domscheit-Berg, o "Daniel Schmitt" do Wikileaks, na prática o "número 2" do site. Daniel conheceu Assange no 24º Chaos Communication Congress, em dezembro de 2007, quando o domínio WikiLeaks.org tinha pouco mais de um ano. Depois de quase 3 anos no "WL" (como ele diz), muitas discordâncias sobre o projeto e muitos conflitos de personalidade, Daniel foi "suspenso" por Assange, em agosto de 2010. Pelo seu lado, Assange apontou como causas da suspensão: "Deslealdade, insubordinação e instabilidade em tempos de crise", o que, no jargão militar, é a classificação para "traidor". Acontece que Daniel largou seu emprego, para se dedicar full-time ao Wikileaks, desde janeiro de 2009, e participou de grandes momentos do site, como o lançamento do vídeo Collateral Murder, que, só no YouTube, teve mais de 10 milhões de acessos. Então, Inside Wikileaks, o livro, é também um acerto de contas. No relato, a cronologia do site se mistura com a personalidade complexa de Assange e até com a vida pessoal de Daniel. No meio da briga, Assange diria que Daniel "não seria nada sem o WikiLeaks" ― e o mais impressionante é Daniel concordar com isso, no livro, e admitir, envergonhado, que, se tivesse a oportunidade de voltar no tempo, faria tudo de novo. Logo, o "gênio" por trás do WL, se é que existe algum, é Julian Assange, restando a "Daniel Schmitt" o papel, nada desprezível, de testemunha ocular da história. A grande ironia é que, na confusão de sentimentos que oscilam entre amor e ódio ("eu não sei mais nada", escreve num determinado momento), Daniel, quando tenta denegrir a imagem de Assange, muitas vezes acaba revelando traços interessantes de sua personalidade. Mesmo quando chama Assange de "paranóico, ambicioso e megaloaníaco", Daniel reconhece que ele também é "criativo, incansável, brilhante". Entre as curiosidades, está o fato de que Assange só viajava com uma mochila, sempre com dois notebooks e vários carregadores para celular. Não dava a mínima para símbolos de status: não tinha carro, nem relógio, nem roupas "de marca". "Até seu computador era velho", observa Daniel. Quando moraram juntos por 2 meses, Daniel notaria que Assange usava várias "camadas de roupa". Seu senso de orientação era péssimo, e Assange passaria a porta da casa de Daniel, inúmeras vezes, sem notar. Assange havia sido o famoso hacker Mendax, "um dos maiores do mundo", na avaliação de Daniel, mas considerava a maioria dos hackers, mesmo os mais hábeis, "simples idiotas que não sabiam usar seu talento para um objetivo maior". Assange também não gostava de jornalistas: considerados, igualmente, "idiotas em sua maioria". Assange nunca assumiria a própria culpa e gostava de culpar, segundo Daniel, "bancos, atendentes em geral, servidores públicos e, quando tudo falhava, o governo". Havia aprendido desde cedo a não manter laços com amigos e com mulheres ― embora, fique nas entrelinhas no livro de Daniel, Assange era o que os franceses costumam chamar de "homme à femmes" ou, como costumávamos dizer em português, um "femeeiro". "As mulheres presenteavam Assange com todo o tipo de coisa: roupas, recarregadores, celulares, cafés, voos, chocolates, novas malas e até meias". E, ainda que não falasse outra língua além do inglês, Daniel reconheceria que Assange tinha um faro muito apurado para "materiais" bombásicos, como o vídeo Collateral Murder. Queria que o WikiLeaks fosse "a mais agressiva organização do mídia do mundo" ― e, acabou conseguindo, conforme atesta Daniel Domscheit-Berg, que o WL tivesse se transformado em algo mais que isso: em um "fenômeno da cultura pop". Inside WikiLeaks não é o relato definitivo sobre o WikiLeaks, e nem sobre Julian Assange, mas é o melhor de que dispomos agora.
|
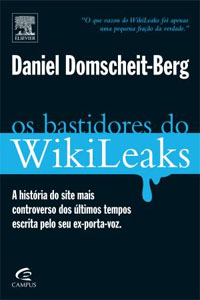 |
| >>>
Os Bastidores do WikiLeaks |
| |
| >>>
O DINHEIRO E AS PALAVRAS, DE ANDRÉ SCHIFFRIN, PELA BEĨ
Apocalípticos da internet, que têm o hábito de pregar o fim dos suportes impressos, não costumam ser levados a sério no Brasil. Os jornais, por exemplo, preferem republicar matérias traduzidas que defendem sua existência mesmo nos piores cenários. Editoras preferem acreditar que os tablets continuarão inacessíveis, economicamente, para a maior parte da população. (Ou que a internet em banda larga, no Brasil, nunca irá se popularizar.) Já as livrarias preferem apostar em formatos "proprietários" de livros eletrônicos, cujo preço de capa é muito similar ao do livro impresso original... Ou o nosso País é mesmo um caso à parte, ou jornais, revistas, editoras e livrarias do Brasil estão tentando se enganar. Surpreendentemente, porém, a BEĨ Comunicação publicou, em português, O Dinheiro e as Palavras, de André Schiffrin ― que é o maior vaticínio, impresso, sobre, justamente, o fim de jornais, livros, editoras e livrarias. Provavelmente não recebeu atenção da nossa mídia ― que, como muito paciente em doença terminal, prefere não falar do próprio fim. Antes que André Schiffrin seja taxado de maluco, ou de inimigo da mídia impressa brasileira, o prefácio é de ninguém menos que Carlos Eduardo Lins da Silva, ex-ombudsman da Folha e, sob muitos aspectos, um dos maiores jornalistas em atividade no Brasil. E é Lins da Silva quem, antes de mais nada, admite: "Ninguém duvida da seriedade das ameaças existentes à sobrevivência dos meios de comunicação tradicionais, especialmente os impressos". Reconhecendo, obviamente, que: "Jornais, revistas e livros têm desempenhado há séculos um papel de mediação entre cidadãos e Estado". Mas acrescentando, com algum desalento: "O negócio das palavras poderá nunca mais ser tão lucrativo quanto já foi...". Schiffrin, por sua vez, não joga a culpa na internet ou na digitalização, mas começa afirmando que a raiz do problema está nos "novos capitalistas" que assumiram os recentes conglomerados de mídia (consolidados depois da globalização). No ramo editorial, por exemplo, Schiffrin argumenta que as velhas editoras, que antes se contentavam com 3 ou 4% de lucro, agora, dentro de um conglomerado de mídia, são obrigadas a ter lucros entre 10 e 15%. Então, dá-lhe best-sellers, massificação de conteúdos e pasteurização de ideias. Schiffrin acusa os próprios "editores" de terem ficado com "cabeça de investidores" ou "de banqueiros", tendo de agradar magnatas de mídia, como Murdoch, ou tendo de pagar empréstimos monumentais a investment bankers (vide o caso New York Times). Em contrapartida, Schiffrin sugere que as transformações, no mundo editorial, talvez só reflitam as mudanças em várias outras corporações de ofício: advogados não advogariam mais e, sim, correriam atrás de casos e clientes mais lucrativos; arquitetos não projetariam mais e, sim, maximizariam os custos por metro quadrado; e médicos não praticariam mais a medicina e, sim, maximizariam os gastos de pacientes com planos de maior cobertura. Em suma, a pressão por grandes lucros havia simplesmente chegado ao ramo editorial... Para piorar, o próprio Schiffrin conclui: "Nenhum capitalista sensato investiria em uma livraria hoje, ou em uma editora, ou em um jornal". E num momento de controversa opinião pessoal: "Eu defendo que o mercado tradicional não nos mostrou como preservar o tipo de cultura independente e diversificada que sabemos necessitar". O Dinheiro e as Palavras, evidentemente, aponta soluções, com as adotadas nos países nórdicos (ainda que utópicas). E traz capítulos intitulados "Para ajudar as livrarias" e "Para salvar a imprensa". Com seu assunto é candente, seus dados se desatualizam rápido, mas, neste momento, é um trabalho que, guardadas as devidas proporções, não deixa nada a dever a similares europeus ou norte-americanos. Os guardiões dos nossos "impressos" podem até se fazer de surdos ou cegos diante deste livro, mas, como o paciente terminal que recusa tratamento, vão apenas morrer mais rápido e mais dolorosamente.
|
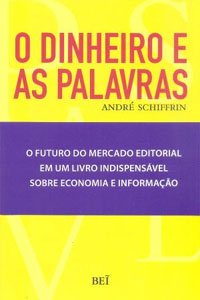 |
| >>>
O Dinheiro e as Palavras |
| |
| >>>
A EPOPEIA DE GILGAMESH, PELA WMF MARTINS FONTES
Qual é a história mais antiga do mundo? Para quem tem formação judaico-cristã, a Bíblia. Para quem cultiva o helenismo, os versos de Homero ou a Teogonia de Hesíodo. Mas, desde o século passado, sabemos que existe uma ainda mais antiga. Estamos falando da Epopeia de Gilgamesh, que a WMF Martins Fontes acaba de reeditar em formato pocket. Na introdução de N.K. Sandars (que estabeleceu a versão inglesa, a mesma que serve de base para a brasileira), ficamos sabendo que os primeiros autores da Bíblia deviam estar bastante "familiarizados com a história" de Gilgamesh e que esta, inclusive, "precede as epopeias homéricas em pelo menos mil e quinhentos anos". Como diria Nietzsche, Gilgamesh é uma história humana, demasiadamente humana, onde estão presentes "a busca pelo conhecimento, a mortalidade e a tentativa de escapar do destino do homem comum". A epopeia se passa da Mesopotâmia, foi escrita pelos sumérios (que chegaram lá em 3000 A.C.) e está registrada nas mais antigas tábuas de Nippur. Historicamente, Gilgamesh surge como "o quinto monarca de dinastia pós-diluviana de Uruk". Sim, há um dilúvio. Talvez o mesmo dilúvio bíblico. Pois, cronologicamente falando, a epopeia de Gilgamesh se situa no período entre Noé e Abraão, cujo único registro conhecido era o Livro do Gênesis. Historicamente, mais uma vez, Gilgamesh foi "um rei que provavelmente comandou uma bem-sucedida expedição para trazer madeira das florestas do norte e que certamente foi um grande construtor". Já na mitologia, Gilgamesh é dois terços deus e um terço homem, assim como Aquiles, cuja mãe era igualmente uma deusa. Aliás, os gregos já advertiam: "Aquele que se deita com uma deusa imortal perde para sempre a força e o vigor". Qualquer semelhança com Adão e Eva, a maçã, a descoberta do pecado e a expulsão do paraíso não é mera coincidência. E, mesmo sem Guerras Mundiais como as nossas, reis como Gilgamesh já temiam que "os poderes do caos e da destruição escapassem ao seu controle". O homem não comandava a natureza como hoje, e ela poderia se voltar contra a humanidade a qualquer instante, extinguindo o Homo sapiens. Em termos de mitologia, mais uma vez, Gilgamesh habita "um mundo em que deuses e semideuses se confraternizam com os homens num pequeno universo de terra conhecida, cercado pelas águas desconhecidas do Oceano e do Abismo". (Ruy Castro poderia chamar isso de Ipanema. E é bem por aí.) O texto em si é agradavelmente legível e muito melhor escrito que o de muitos autores da nossa própria época. Como tantos heróis conhecidos nossos, Gilgamesh "parte numa jornada", "cansa-se", "exaure-se em trabalhos", "retorna", "descansa" e "grava na pedra toda a sua história". Gilgamesh é rei, e esse é seu destino. Mas Gilgamesh não viverá eternamente, e esse, também, é seu destino. Pois lhe é advertido: "Enche tua barriga de iguarias; dia e noite, noite e dia, dança e sê feliz, aproveita e deleita-te. Veste sempre roupas novas, banha-te em água, trata com carinho a criança que te tomar as mãos e faze tua mulher feliz com teu abraço; pois isto também é o destino do homem". "Não existe permanência", antecipando Heráclito, a história registra. E antecipando, desta vez, o conceito grego de nêmesis e húbris: "Os heróis e os sábios, como a lua nova, têm seus períodos de ascensão e declínio". Se a Bíblia, em suas múltiplas versões, serve de base para judeus, cristãos e muçulmanos, podemos dizer que Gilgamesh serve de base para toda a humanidade, assim como os gregos e os romanos transcenderam o chamado paganismo, pois escreveram a história ocidental, que é inescapavelmente a nossa História. A Epopeia de Gilgamesh, assim como a Bíblia, os gregos e os romanos de nossa preferência, pode ser um livro de cabeceira, sim, pois, como Montaigne, que costumava se servir da filosofia, estamos sempre aprendendo a viver, e a morrer.
|
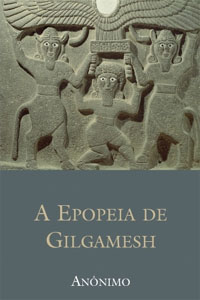 |
| >>>
A Epopeia de Gilgamesh |
| |
| >>>
HITLER E OS ALEMÃES, DE ERIC VOEGELIN, PELA É REALIZAÇÕES
Paulo Francis dizia que, enquanto Hitler for considerado um monstro ― desumano ―, ficamos sem compreender o que realmente houve naquela primeira metade do século XX. E, portanto, estamos condenados a repetir tragicamente a História. A relançada biografia de Ian Kershaw, em volume único, é muito valiosa ao descrever os fatos entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, mas falha, justamente, no ponto em que critica previamente Hitler, julgando o biografado antes mesmo de este se converter no tão famigerado "monstro". Trazendo mais luz a esse aspecto da "humanidade" de Hitler ― por mais contraditória e repulsiva que ela seja ―, está a obra de Eric Voegelin, filósofo de Colônia, especializado em ciência política. Hitler e os Alemães (É Realizações, 2008) procura compreender o fenômeno mais do que o homem, o mesmo que tomou conta da Alemanha e, catastroficamente, da Europa. Para que se tenha uma ideia da ousadia da interpretação de Voegelin, o livro invoca, logo nos primeiros capítulos, uma carta de Gerhard Hess, um jovem cidadão alemão, à Der Spiegel (em 1964): "O crime de Hitler foi o de ter sido um jogador que perdeu, e que levou consigo todo um povo, de maneira que este afundou junto com ele". Mais adiante, sob o mesmo tema do "monstro", Voegelin invoca Percy Ernst Schramm, professor de História medieval e moderna: "Se Hitler for entendido como um 'acidente', como uma personalidade demoníaca e excepcional, ele nos tira toda a responsabilidade, e podemos depositar nele toda a culpa". Não, Hitler não era tampouco um idiota, ratifica Voegelin (aliás, pelo contrário): "Hitler tinha uma inteligência eminente, através da qual era capaz de enganar muitas pessoas". E invocando Rudolf Augstein, editor da Der Spiegel nos mesmos anos 60, complementa: "O fato de Hitler ter sido uma figura mais do que indesejável não deveria nos levar a desprezar o fato de ele ter sido bem sucedido". Voegelin, num dado momento, reconhece apreensivo: "O que é embaraçoso nesse ponto é que Hitler aparece como um grande político, um político brilhante, e que, no entanto, não tem outras qualidades". Mais adiante, conclui: "Quem quer que tenha o poder de sacudir o mundo, e Hitler tinha, não é desprezível". Apesar de que: "Hitler chegou a uma façanha eminente na História do mundo: pelo sucesso de seus atos desprezíveis, ele provou, sem ambiguidade, o lado desprezível do mundo em que obteve tamanho sucesso". Afinal: "O que sempre esteve em jogo não foram os horrores [da Segunda Guerra Mundial], mas os homens que cooperaram com tais horrores e sua estrutura espiritual, que até hoje não mudou muito". E quem não se lembra do paradoxo por meio do qual eram "inocentados" todos os criminosos do nazismo? "O assassino, que cometeu fisicamente o assassinato, age sob ordens; aquele que dá as ordens, fisicamente, não cometeu nenhum assassinato. Assim, tudo dá em nada. Ou seja: todos são inocentes", pontifica Voegelin. A raiz do problema estaria na definição de George Santayana, filósofo americano: "Democracia é o sonho irrealizável de uma sociedade de plebeus patrícios". Como nossas sociedades não são apenas de patrícios, mas de uma imensa maioria de plebeus ― aponta Voegelin ―, estamos perdidos: "Aí se tem a mesma tragédia do caráter alemão: Quando essa ralé abjeta chega ao poder, terminou a cultura. Nesse ponto, só é possível curvar-se ou ir embora". Por fim, uma frase muito bem escolhida de George Bernard Shaw (que, além de servir à "revolução" do Nacional Socialismo com uma luva, evoca os nossos salvadores da pátria e outrora depositários da "ética" na política): "As revoluções nunca diminuíram o fardo da tirania: elas apenas o transferiram para outros ombros".
|
 |
| >>>
Hitler e os Alemães |
| |
|
|
| |
>>>
Julio Daio Borges
Editor |
| |
|