COLUNAS
Sexta-feira,
14/2/2003
Philip Roth e a marca humana
Julio Daio Borges

+ de 13600 Acessos
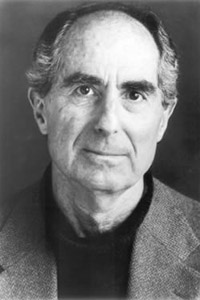
"Depois de cinco anos eu já havia me tornado perito em recortar cirurgicamente meus dias de tal modo que cada hora daquela minha existência em que nada acontecia tivesse sua importância para mim. Sua necessidade. Até mesmo sua animação. Eu não me permitia mais o hábito pernicioso de desejar uma coisa, e a última coisa que eu queria voltar a ter, pensava eu, era a companhia constante de uma pessoa. A música que ouço após o jantar não tem o propósito de me aliviar do silêncio, porém representa uma espécie de concretização do próprio silêncio: ouvir música durante uma ou duas horas todas as noites não me priva do silêncio - a música é a própria realização do silêncio. No verão, nado por meia hora na minha lagoa assim que me levanto, e no resto do ano, depois de passar a manhã escrevendo - a menos que a neve inviabilize minha caminhada -, percorro as trilhas da serra durante umas duas horas quase todos os dias. O câncer que levou minha próstata não voltou. Tenho sessenta e cinco anos e estou fisicamente bem, trabalhando bastante - e estou sabendo das coisas. Tenho de estar sabendo."
(Philip Roth, A marca humana, Companhia das Letras, 2002, págs. 62-63)
No livro, o trecho acima é atribuído a Nathan Zuckerman, o alter ego de Philip Roth. Mas poderia muito bem ser associado ao próprio - ou seja: a Roth, um escritor norte-americano de origem judaica, nascido em 1933, que, junto a Saul Bellow, Norman Mailer e John Updike, está entre os maiores dos Estados Unidos hoje. (Entre os maiores do mundo, diga-se de passagem.) Em 2002, Roth publicou The Dying Animal, mas como no Brasil estamos defasados em aproximadamente um livro, a Companhia das Letras soltou, no mesmo ano, A marca humana (ou The Human Stain, sua realização anterior), com tradução de Paulo Henriques Britto. Encerra-se assim, em Terra Brasilis, a trilogia dedicada à América, que teve início com Pastoral americana (1998), passou por Casei com um comunista (2000) e agora se fecha com A marca humana (2002).
E quais seriam os argumentos para se atravessar as mais de 450 páginas de A marca humana, justamente sem ter lido as duas obras predecessoras? Primeiro e mais óbvio de todos: a trilogia não implica numa continuação ("cada volume é independente e pode ser lido em separado"). Segundo e mais espinhoso: Philip Roth é um grande escritor. Agora, o que significa dizer isso hoje - numa época em que a convivência com escritores, em geral, é escassa e a capacidade de avaliar entre o bom, o ruim e o médio normalmente passa ao largo? Traduzindo: alguém atualmente sabe reconhecer o grande e - principalmente - valorizá-lo comme il faut? Muito provavelmente: não. Resta-nos, portanto, a tarefa árdua de tentar demonstrar a grandeza contida em A marca humana. (Ouve-se, subitamente, a voz do espírito de porco: - Mas se o autor é tão enorme assim não deveria ser menos tortuoso afirmá-lo? Ainda mais com palavras? Pois é, espírito de porco: é aí que você se engana, é justo aí que você se engana...)
O centro das atenções de Philip Roth - ou melhor, de Nathan Zuckerman -, desta vez, é Coleman Silk. Aparentemente um professor aposentado de letras clássicas, vítima da onda do politicamente correto que patrulha a produção intelectual contemporânea - quando procura Zuckerman para escrever sua história. A marca humana, portanto, poderia ser entendido como um libelo contra a correção política - mas é muito mais que isso. Os resenhistas tupiniquins não chegaram nem até esse ponto. Ativeram-se a temas menores, e mais picantes, que igualmente rondam o livro. Um deles, por exemplo, remete ao uso do Viagra. Coleman, um decano "fora de combate" aos 71 anos, redescobre o furor sexual, graças ao remédio, e graças a uma faxineira (sim, uma faxineira) de 34 anos e mil e uma utilidades. Conforme foi dito, esse é um dos aspectos menores do livro. É, aliás, por causa também disso que Coleman Silk cai nas garras dos patrulheiros e pede ajuda a Zuckerman.
No fundo, Roth, quando fala do Viagra ou até de Monica Lewinsky, não está preocupado em entrar na moda, como se pode pensar. Acontece que, além de compor os grandes painéis que sempre compôs, pinça exemplos de anos recentes, precisamente para ilustrar, de modo mais presente, a perda de uma certa humanidade fundamental e os estertores de uma sociedade engessada por conceitos, regras e códigos. Assim, ao tratar do despertar sensual de seu protagonista septuagenário, sugere o resgate de uma parcela irredutível do ser humano: a sexualidade. "Sem Viagra eu teria a dignidade de um senhor idoso, livre do desejo, bem-comportado. Eu não estaria fazendo uma coisa sem sentido. Não estaria fazendo uma coisa indigna, imprudente, impensada e potencialmente desastrosa pra todas as partes envolvidas" (págs. 47-48). E sobre o affair Clinton: "Você sabe o que o Kennedy diria a ela [Monica Lewinsky] se ela viesse pedir emprego? Sabe o que o Nixon diria? O Truman, até mesmo o Eisenhower diria a ela. (...) Eles diriam a ela que não só não davam o emprego que ela pedia, mas que também ninguém nunca mais ia dar emprego nenhum a ela, o resto da vida. (...) Que o pai dela ia perder a freguesia, que ele também ia ficar sem trabalho. A mãe dela nunca mais ia conseguir trabalho, o irmão dela nunca mais ia conseguir trabalho, ninguém na família dela nunca mais ia conseguir ganhar um tostão, se ela pensasse em contar a história" (págs. 192-193).
(Repetindo: as referências às ditas atualidades são apenas um aperitivo para o que está por vir; pisamos então agora no terreno que os nossos críticos literários deixaram para trás.) Além das evidentes acusações de assédio sexual e abuso de poder, que assombram o voluptuoso Coleman Silk, já afastado da vida acadêmica, o ex-professor ainda carrega a pecha de racista. Antes de exonerar-se, uma vez ao se referir a alunos ausentes, usando o termo spooks (desconhecidos, espectrais, fantasmagóricos), acabou crucificado quando se revelou que os mesmos estudantes eram negros. (Em inglês: spook também designa alguém que seja da raça negra, só que pejorativamente.) Silk ignorava essa informação e viu, contra si, ser movida toda uma campanha - que culminou com o seu voluntário afastamento. Ou seja: os guardiões das palavras, os mesmos que instituíram obrigatoriedades como o tal "afro-americano", jamais perdoaram o descuidado Coleman - e decidiram arruiná-lo. A grande ironia, porém, imposta por Philip Roth, e que faz toda a diferença, é a seguinte: Coleman Silk, em sua origem, era negro também.
Mas não um negro qualquer: um negro sem traços negróides muito visíveis, inclusive com uma tonalidade de pele que o permitia - em algumas ocasiões - passar-se por branco. Foi aplicado o golpe de mestre. A idéia é fenomenal - e só Roth mesmo para implementá-la. Coleman Silk, nascido de uma família negra, com pais e irmãos efetivamente negros, descobre muito cedo as vantagens de ser branco aos olhos da sociedade - e decide sê-lo desde então. Entra para a Marinha (como branco) e, por causa disso, vai estudar na NYU. Lá, começa namorar uma louraça de ascendência nórdica. Apaixona-se, apresenta-a à família, mas, ao descobrir a verdadeira verdade sobre o seu negro passado, a namorada some de vez e não retorna suas ligações nunca mais. Coleman então rompe com sua família e vai casar-se com uma judia. Têm filhos, mas nega à sua mãe (a avó) e aos seus irmãos (os tios) o direito de conhecê-los. E vice-versa: torce para que nenhum deles nasça negro, mentindo-lhes sempre, desde a infância, sobre suas origens espúrias. ("'Você nunca vai deixar que eles me vejam', prosseguiu sua mãe. 'Nunca vai deixar eles saberem quem eu sou'. 'Mamãe', você vai me dizer, 'vá à estação rodoviária de Nova York, fique sentada na sala de espera, que às onze e vinte e cinco eu passo com os meus filhos, todos eles endomingados.' Vai ser esse o meu presente de aniversário daqui a cinco anos. (...) E você sabe muito bem que eu vou estar lá. (...) O que você disser, é claro que eu vou fazer. Você me diz que a única maneira de eu pegar os meus netos é você me contratar pra tomar conta deles, dizendo que meu nome é sra. Brown, e eu aceito. (...) É claro que eu faço o que você me mandar. Eu não tenho opção" [pág. 179].)
Assim, a tragédia de Coleman Silk, um especialista em Sófocles, um sujeito que havia se virado do avesso para encontrar um lugar ao sol, é ser mortalmente ferido por uma acusação de racismo - movida por dois alunos negros, alimentada fartamente por seus inimigos, e abraçada pela diretora do seu departamento, uma antagonista empedernida, a francesa Delphine Roux. A ela, Roth dedica uma boa quantidade de páginas. Parece ser o seu alvo preferido: a típica doutorazinha emancipada, forjada nos "lycées das elites". Derretendo-se pelo tcheco Milan Kundera, deleitando-se na leitura de Julia Kristeva, freqüentando as exposições de Jackson Pollock - a caricatura mais perfeita do câncer que, em décadas, conseguiu sucatear o ensino superior nos Estados Unidos. ("Muitíssimo bem preparados, com excelentes contatos no meio intelectual, muito inteligentes, imaturos, tendo recebido a forma mais esnobe de formação que a França tem a oferecer, preparando-se com afinco para serem invejados a vida inteira, podem ser encontrados nas noites de sábado (...) falando sobre temas grandiosos, jamais mencionando nenhuma trivialidade ou amenidade - só idéias, política, filosofia. (...) Intelectual não pode ser frívolo. Vive para pensar. A lavagem mental que sofreram pode tê-los tornado agressivamente marxistas ou agressivamente antimarxistas, mas, qualquer que seja o caso, têm horror congênito a tudo o que é americano" [pág. 241].)
É Delphine Roux quem atormenta Coleman Silk, através de cartinhas anônimas, quando este se envolve sexualmente com a faxineira analfabeta, Faunia, cuja idade equivale a menos da metade da sua. Mas não é a discípula de Simone de Beauvoir quem vai desferir-lhe o golpe de misericórdia; nem mesmo os partidários da political correction. Seu carrasco honorário será Lester Farley, um ex-combatente do Vietnã: o antigo marido de Faunia, que ainda não havia entrado na história. Les, para os íntimos, é o último grande mergulho de Philip Roth na caracterização de uma personagem complexa e exemplarmente simbólica do caráter norte-americano atual. Entre os pesadelos de uma guerra que para ele não acabou, Farley alterna sua existência entre surtos de violência (termina responsável pelo incêndio que mata seus dois filhos com Faunia) e atividades de um bucolismo inacreditável (como quando, nas derradeiras páginas de A marca humana, explica sua técnica de pescar num lago congelado). Perseguidor incansável das paixões e dos casos da ex-mulher, segundo suposição de Nathan Zuckerman (o nosso narrador), atira seu caminhão contra o carro de Coleman e este, sem alternativa, acidenta-se fatalmente, arrastando consigo sua companheira final: Faunia.
É de se imaginar o tipo de esgotamento físico pelo qual passou o autor, depois de compor esse ciclo monumental, em que A marca humana é apenas a terceira (e última) parte. Passado o terremoto, ainda teve fôlego para mais um livro (quem diria...). Recentemente, Philip Roth foi aos jornais declarar que estava encantado com o 11 de setembro - e que Nova York, a seu ver, voltara a ser uma cidade interessante (naqueles instantes decisivos em que o mundo, desarvorado, esperava apenas pela próxima explosão). Não se sabe se ele terá tempo, nem paciência, para retratar os acontecimentos dos Estados Unidos da América pós-World Trade Center. Também não importa. Sua literatura, que parece inesgotável em abarcar toda a sorte de banalidades e, ainda assim, permanecer essencial, paira, além de outros clássicos (seus), já publicados em português - o que não o converte, exatamente, numa novidade no mercado editorial. Mas, como suas panorâmicas são sempre revigorantes, convém tratá-lo com a reverência de um realizador de porte e a avidez de quem devora incessantemente o novo.
"Nós deixamos uma marca, uma trilha, um vestígio. Impureza, crueldade, maus-tratos, erros, excrementos, esperma - não tem jeito de não deixar. Não é uma questão de desobediência. Não tem nada a ver com graça nem salvação nem redenção. Está em todo mundo. Por dentro. Inerente. Definidora. A marca que está lá antes do seu sinal. Mesmo sem nenhum sinal ela está lá. A marca é tão intrínseca que não precisa de sinal. A marca que precede a desobediência, que abrange a desobediência e confunde qualquer explicação e qualquer entendimento. Por isso toda essa purificação é uma piada. E uma piada grotesca ainda por cima. A fantasia da pureza é um horror. É uma loucura. Porque essa busca da purificação não passa de mais impureza."
(Philip Roth, A marca humana, Companhia das Letras, 2002, pág. 308)
Para ir além

Julio Daio Borges

São Paulo,
14/2/2003
Quem leu este, também leu esse(s):
01.
Eleições na quinta série de Luís Fernando Amâncio
02.
Isto é para quando você vier de Renato Alessandro dos Santos
03.
Impressões do jovem Engels de Celso A. Uequed Pitol
04.
Meu eu escritora de Taís Kerche
05.
Caio Fernando Abreu, um perfil de Rafael Rodrigues
Mais Acessadas de Julio Daio Borges
em 2003
01.
Freud e a mente humana - 21/11/2003
02.
Frida Kahlo e Diego Rivera nas telas - 25/4/2003
03.
Rubem Fonseca e a inocência literária perdida - 16/5/2003
04.
A internet e as comunidades virtuais - 24/1/2003
05.
Cabeça de papel - 23/9/2003
* esta seção é livre, não refletindo
necessariamente a opinião do site
|